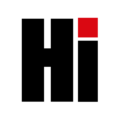Jorge Henriques, Presidente da Federação das Indústrias Portuguesas Agro-alimentares (FIPA): “Portugal precisa de uma visão mais agro-alimentar e menos agrária”
Colocada que está a competitividade como principal desafio da agro-indústria para o futuro, Jorge Henriques, Presidente da FIPA, aponta o aumento do IVA na restauração como umas das piores políticas dos últimos 100 anos em Portugal.

Victor Jorge
El Corte Inglés ilumina-se de azul para sensibilizar importância da luta contra o Cancro da Próstata
Quinta da Vacaria investe na produção de azeite biológico
Grupo Rotom reforça presença no Reino Unido com aquisição da Kingsbury Pallets
Diogo Costa: “Estamos sempre atentos às necessidades e preferências dos nossos consumidores”
Staples une-se à EDP e dá passo importante na descarbonização de toda a sua cadeia de valor
CTT prepara peak season com reforço da capacidade da operação
Já são conhecidos os três projetos vencedores do Prémio TransforMAR
Campolide recebe a terceira loja My Auchan Saúde e Bem-Estar
Montiqueijo renova Selo da Igualdade Salarial
Sensodyne com novidades nos seus dentífricos mais populares
 Portugal está, de certa forma, a viver um regresso às origens. Ou seja, a agricultura está hoje a ser considerada, depois de muitos anos ignorada, como uma possível tábua de salvação. Isto depois de o País ter sido, segundo Jorge Henriques, presidente da Federação das Indústrias Portuguesas Agro-Alimentares (FIPA), confrontado com uma das maiores mentiras: a de que “Portugal não tinha de produzir bens transaccionáveis, que não precisaríamos da agricultura e da indústria”.
Portugal está, de certa forma, a viver um regresso às origens. Ou seja, a agricultura está hoje a ser considerada, depois de muitos anos ignorada, como uma possível tábua de salvação. Isto depois de o País ter sido, segundo Jorge Henriques, presidente da Federação das Indústrias Portuguesas Agro-Alimentares (FIPA), confrontado com uma das maiores mentiras: a de que “Portugal não tinha de produzir bens transaccionáveis, que não precisaríamos da agricultura e da indústria”.
No dia do IV Congresso da Indústria Portuguesa Agro-Alimentar, o responsável da federação está esperançado que o Governo “comece a olhar para a indústria como algo que é absolutamente estratégico”.
Hipersuper (H): Que balanço faz destes 25 anos da indústria agro-alimentar em Portugal? Quais foram os principais marcos deste quarto de século?
Jorge Henriques (J.H.): Naturalmente que 25 anos de uma federação de uma indústria agro-alimentar são anos difíceis, de enormes sucessos nalgumas frentes, mas também de algumas desilusões.
A FIPA surge num período que tem a ver com a então adesão de Portugal à CEE, dando resposta a esse desafio, bem como ao enorme conjunto legislativo que Portugal teve de incorporar. Situações como a segurança alimentar foram uma bandeira e tiveram resultados que transcenderam em muito todas as expectativas.
H: A segurança alimentar é o maior marco?
J.H.: É um dos marcos mais importantes ao lado da constituição de uma federação num país tradicionalmente avesso ao associativismo.
A federação é hoje incontornável no relacionamento quer a nível europeu com a federação europeia quer a nível interno com as autoridades locais.
H: Mas nestes últimos 25 anos de existência da FIPA, onde é que se avançou mais e quais foram os passos que deveriam ter sido dados e que ainda não foram dados?
J.H.: Na questão da segurança alimentar demos um salto qualitativo numa Europa que estava já muito mais avançada.
H: Encurtámos essa distância?
J.H.: Sem dúvida nenhuma. Tenho dito várias vezes: temos uma indústria, em diferentes sectores, capaz de responder a nível europeu.
Não nos podemos, no entanto, esquecer que este sector da agro-indústria foi um sector que durante muitos anos teve um défice de sinalização, que não foi capaz de criar sedução. Nós tínhamos uma tarefa enorme para fazer e essa tarefa de verdadeiro ajustamento, o sector deu-a como exemplo ao País.
H: Mas onde é que Portugal não avançou?
J.H.: A FIPA tem vindo, há 10 anos, com muita resistência, a apontar algumas políticas, nomeadamente, a transferência de conhecimento entre o meio académico, cientifico e as empresas. Havia um desfasamento de linguagem e métodos entre a universidade e a indústria.
Em 2008, logo no início da crise em que ainda estamos mergulhados, a promoção do Pólo Tecnológico, com o apoio da FIPA, visou fundamentalmente e de uma forma única apoiar a transferência do conhecimento entre o meio académico e científico e as empresas. Ou seja, promover a inovação, uma cultura de maior criatividade e de maior interligação, sobretudo, num universo constituído, na sua maioria, por pequenas e médias empresas.
Por outro lado, temos a questão da promoção externa e da internacionalização que, parecendo a mesma coisa, são coisas distintas. Isto leva-nos, contudo, à questão dos grandes pensadores que julgavam que Portugal não tinha de produzir bens transaccionáveis, que não era preciso produzir, que não precisaríamos da agricultura e da indústria. Essa deverá ter sido das maiores mentiras que nos contaram e à qual não conseguimos dar a volta.
Hoje, contudo, Portugal está confrontado com a necessidade de exportar. E o que pode exportar: bens transaccionáveis. Ora, não nos preparámos ao longo dos últimos anos do ponto de vista de aproveitamento ordenado e coordenado dos dinheiros que vieram de Bruxelas exactamente para a promoção externa.
Temos uma visão muito clara, não só no quadro externo, mas também interno que não se pode descurar. É preciso não esquecer o mercado interno e querer ir lá para fora como se isso fosse uma coisa que se fizesse por decreto ou carregando num botão.
Há que colocar esta questão: se não temos dimensão no quadro interno, como é que vamos produzir para outros países onde há, naturalmente, oportunidades para as empresas com alguma dimensão.
Por isso, neste capítulo falhámos rotundamente na definição de mercados-alvo, ficando concentrados por muito tempo em mercados bem próximos de Portugal.
H: Tivemos demasiadamente centrados na Europa?
J.H.: O nosso primeiro mercado foi Espanha e agora estamos a sofrer as consequências da crise que o nosso vizinho também está a atravessar. E o que fizemos? Mudámos de armas e bagagens para Angola que nunca devíamos ter abandonado.
Não obstante, o sector não falhou, o que aconteceu foi que o sector não teve o apoio que outras indústrias de bandeira tiveram para se internacionalizar.
H: Quais?
J.H.: Estou a falar das indústrias conhecidas como, por exemplo, as energias que viveram e trabalharam sempre com rede num mercado altamente protegido e sem concorrência e que curiosamente continua a ser uma das formas como alguns sectores gostam de trabalhar em Portugal, debaixo de um músculo colonial e ao mesmo tempo sem concorrência.
H: Mas faltou a definição de mercados-alvo estratégicos?
J.H.: O que temos de clarificar de uma vez por todas é a visão estratégica para a promoção externa. Como é que nos vamos afirmar na questão da promoção externa?
De seguida, conseguir seleccionar mercados-alvo, mas num quadro de exigência muito rápida, porque estamos a trabalhar já sem rede, antes tínhamos 20 anos de rede. Agora, temos de quase carregar num botão e fazer acontecer.
Portugal neste momento precisa de exportar bens transaccionáveis produzidos nas nossas fábricas.
H: Mas quais são esses mercados-alvo?
J.H.: Isso depende também muito das marcas e empresas. Nós temos que aproveitar aquilo que são os conhecimentos das empresas ao longo dos anos. Curiosamente temos vindo a crescer nos últimos anos fora da UE, o que é um bom sinal. E, claro, crescemos em África, mas temos um enorme défice na América Latina. Não faz sentido que Portugal tenha uma ligação com o Brasil, e por consequência à América Latina, e não possa aproveitar e pensar nessa geografia.
Em relação a África, deveríamos estar a pensar na África Austral que nos pode permitir uma outra dimensão a nível de consumidores e atacar as geografias que nos são mais próximas, concretamente Angola e Moçambique.
H: Da parte do Governo deveria haver um maior apoio para essa promoção?
J.H.: Penso que a questão deve ser posta ao contrário. O que é que nós já fomos capazes de fazer para ajudar este Governo?
H: É assim que a questão deve ser colocada?
J.H.: Sim e não estou a citar nenhum grande pensador ou político. Acho que os governos, sobretudo os últimos, têm uma necessidade de ajuda não só para se ajustar às novas realidades, como também para se situar. É preciso ver se têm capacidade para ouvir. Espero que este Governo mude um pouco a sua agulha e discurso e tenha a capacidade para ouvir a indústria e o sector naquilo que é pertinente e onde tem know-how.
Não nos podemos esquecer que o nosso sector é constituído, na sua maioria, por PME e é aqui que os escritórios do AICEP e as embaixadas têm, não podem, têm de ter um papel fulcral. Não têm outra missão. Não vivemos em estado de guerra com nenhum país. Por isso, as embaixadas e os escritórios do AICEP não têm outra missão, senão colocarem-se ao serviço das empresas e dos sectores exportadores.
Agora, onde é que se tem de fazer alguma coisa e o Governo pode ajudar? Nós temos um grave problema transversal a todos os sectores, mas muito particular para o agro-industrial, que é o financiamento. Sabemos que há uma falta enorme de liquidez nos bancos portugueses, decorrente da crise, há um grave problema nos seguros de crédito para a exportação e por outro lado, temos alguns custos de contexto que não têm vindo a baixar, pelo contrário temos vindo a registar aumentos sucessivos na energia e combustíveis e até no acesso a redes portuárias, que fazem disparar a nossa falta de competitividade quando esta deveria estar a melhorar. Neste contexto interno, a indústria perdeu muito oxigénio no mercado interno.
Ajustamento é uma palavra interessante que, usada com conta peso e medida, pode em momentos difíceis, significar uma coisa. Nós estamos a contrair da forma mais dramática que já alguma vez vi, e muito em particular neste sector, pela conjugação de um conjunto de factores, desde logo a situação económico-financeira do País, o aumento do desemprego em geral e das políticas que têm sido levadas a cabo, nomeadamente, as que foram impostas aos funcionários públicos que lhes retira dois meses de salário e que se reflectem no consumo interno.
Claro que me vai dizer que neste aspecto que nos tínhamos de ajustar porque vivemos durante muitos anos acima das nossas possibilidades. É uma frase que detesto ouvir …
 H: Há quem coloque a questão da seguinte forma: O consumidor mudou, a economia mudou, o mercado mudou. A indústria transformadora também mudou, ou melhor, adaptou-se?
H: Há quem coloque a questão da seguinte forma: O consumidor mudou, a economia mudou, o mercado mudou. A indústria transformadora também mudou, ou melhor, adaptou-se?
J.H.: Na indústria agro-alimentar e quando se fala na necessidade de ajustamento e em menor consumo, a maior parte das pessoas não sabe do que está a falar. De um forma geral, em praticamente todos os produtos da indústria agro-alimentar, já consumimos menos do que a média europeia.
A questão do ajustamento aqui não está no ajuste à média com que nos gostamos de comparar. Não, nós estamos a comprimir aquilo que eram os nossos gastos e as nossas despesas com alimentação.
Portanto, no caso da indústria agro-alimentar estamos a falar de uma contracção forçada em muitos casos pela perda de rendimento, mas também pelo facto de factores adversos, como foi a política fiscal, nomeadamente o IVA. E esta veio a reflectir-se por duas vias, directamente sobre os produtos e directamente sobre os canais, como foi o caso do aumento do IVA na restauração para 23%, que vai ficar sinalizada como pior política dos últimos 100 anos em Portugal. Não podia ser mais negativa em várias dimensões.
Para lhe mostrar como este sector é razoável e como não pensa somente na sua indústria, mas que pensa em Portugal e nos consumidores, nós fizemos propostas muito concretas ao Governo de um equilíbrio que permitiria que o ajustamento se fizesse e alguma contracção seria inevitável, mas que não fosse feita desta forma, com esta desagregação completa e esta destruição de valor que está a acontecer decorrente de um aumento de IVA exponencial e que está a colocar dificuldades enormes a muitas empresas e negócios.
H: Depois de, em 2010, se ter batido pela manutenção das taxas do IVA, a FIPA viu esse imposto ser alterado em 2011. Um estudo desenvolvido pela FIPA e a Deloitte, apontava, em Agosto de 2011, para repercussões graves no sector e na economia nacional. Confirmam-se a redução significativa do volume da produção nacional, a perda de cerca de 40.000 postos de trabalho ou o forte movimento de deslocalização de empresas?
J.H.: Confirmo, naturalmente. Quando ajudámos ou melhor tentámos ajudar o Governo a elaborar o Orçamento de Estado, a FIPA teve o cuidado de propor soluções e apresentar os resultados e mostrar como outras soluções teriam outras consequências, devidamente quantificadas.
Dissemos que se alguns sectores tivessem aumentos de IVA de 6 para 23%, as consequências seriam brutais, com quedas de consumo a dois dígitos, significando, a curto/médio prazo, mais desemprego e eventualmente deslocalizações de empresas nacionais. Isso está a acontecer.
Ora, com esta política ninguém sai a ganhar.
H: Mas que soluções apresentaram?
J.H.: Colocar, por exemplo, a generalidade dos produtos num IVA intermédio a 13%. Isso criaria menor sacrifício, maiores resultados e a contracção esperada, nomeadamente, a substituição das importações por exportações iria acontecer.
H: Está a dizer que em vez da contracção, teríamos o tal ajustamento?
J.H.: Exactamente. O que nós sempre defendemos foi que, face à necessidade que o País tem de um ajustamento, seria expectável uma contracção, mas não com esta brutalidade.
H: Mantém a afirmação de que o sector agro-alimentar tem sido desprezado pelo Ministério da Agricultura?
J.H.: Eu não disse pelo Ministério da Agricultura, disse pelo poder público. Até porque a indústria tem dois ministérios: o da Agricultura e o da Economia.
Há dois anos e meio que temos vindo a dizer ao Ministério da Agricultura que Portugal precisa de uma visão mais agro-alimentar e menos agrária.
Temos vindo a dialogar muito com a actual Ministra da Agricultura sobre aquilo que são os focos para esta indústria, qual o caminho que este sector deve trilhar e como poderemos trabalhar em fileira. Daí resultou uma coisa já extremamente positiva: a recente criada PARCA.
Penso que este Governo começa a olhar para a indústria como algo que é absolutamente estratégico.
H: Foi preciso batermos no fundo para reconhecermos que de facto a indústria era essencial?
J.H.: Não sei se se trata de bater fundo ou se é o trazer de uma nova geração. Nós nunca devíamos ter abandonado a agricultura. Porque é fundamental para assegurarmos a nossa soberania nacional. Naturalmente que não podemos passar a produzir tudo, mas podemos, sim, produzir mais e depender cada vez menos do exterior, sabendo que nalgumas matérias-primas temos de ir lá fora.
Quanto mais tempo ficarmos desligados da prática agrícola, das suas práticas e experiências, mas difícil se torna o regresso.
H: Mas referiu que o poder político esteve muito virado para tudo menos a produção primaria. Hoje é cada vez mais consensual que o País se tem desligar dessa corrente terciária e ligar-se à primária.
J.H.: Quando entrámos na CEE fizemo-lo de malas vazias, de mãos a abanar, disponíveis para aquilo que nos apresentassem. E o facto é que conhecemos um forte empurrão que nos deslocou daquilo que era uma missão: a indústria, as pessoas e a agricultura. Este era o nosso território fértil, capaz, que estava ali nas nossas mãos, que não tínhamos de comprar, só tínhamos de lhe dar continuidade. Isso perdeu-se, foi ausência de desígnio.
H: Mas não será que as entidades nacionais não estão demasiado sujeitas ou obrigadas a seguir o que é ditado de fora?
J.H.: Direi que não. Há espaço de manobra, o que acontece é que abandonámos muitas das nossas culturas tradicionais e depois passámos a importá-las. No caso das frutas, por exemplo, importamos muita coisa quando não tínhamos necessidade de importar sequer metade.
O problema é que os mercados não estão a funcionar, há um desequilibro.
 H: Em relação a esse desequilíbrio, aproveito as palavras da Ministra da Agricultura, Assunção Cristas, que no inicio do ano afirmava que “a relação de poder entre distribuidores e produtores não é equilibrada”, destacando mesmo que “quem está na posição mais fraca, sente-se esmagado”. Esse sentimento de esmagamento continua? O que será necessário fazer para equilibrar esta relação de poder entre a distribuição e a produção?
H: Em relação a esse desequilíbrio, aproveito as palavras da Ministra da Agricultura, Assunção Cristas, que no inicio do ano afirmava que “a relação de poder entre distribuidores e produtores não é equilibrada”, destacando mesmo que “quem está na posição mais fraca, sente-se esmagado”. Esse sentimento de esmagamento continua? O que será necessário fazer para equilibrar esta relação de poder entre a distribuição e a produção?
J.H.: Não costumo comentar as afirmações dos governantes, mas de toda a maneira direi que a Autoridade da Concorrência (AdC), em 2010, numa análise que fez detectou desequilíbrios entre a indústria e os seus clientes.
Esses desequilíbrios são conhecidos e reconhecidos e são normais num quadro de evolução absolutamente fantástico como aconteceu em Portugal nos últimos 25 anos.
Há um desequilibro, é preciso ajustar os instrumentos, nomeadamente aqueles que concorrem para a fiscalização das actividades e depois é preciso encontrar soluções. Ao longo dos anos isto não foi olhado e de um momento para o outro houve a ânsia de querer, num só golpe, resolver tudo.
Nós estamos sobre um sufoco em tudo neste momento em Portugal, seja legislativo, de um conjunto de quadros e códigos que são imposto de fora quando deveriam ser encontrados cá dentro.
H: Como por exemplo o Código de Boas Práticas que anda emperrado há bastante tempo?
J.H.: Digo-lhe, sinceramente, que não há código nenhum emperrado. O código nasce em 1997 e nasce do reconhecimento de que algumas coisas não funcionavam e que era preciso colocá-las num código. Acontece é que esse código ao longo dos anos não funcionou. O código como instrumento não serviu nem de árbitro, nem para nada.
Por isso, não há nada emperrado. É legítimo e normal que as associações e confederações estejam a discutir um assunto muito delicado, sobretudo, quando estamos a falar de partes que estão em desequilíbrio.
H: Mas temos uma possibilidade de serem as próprias confederações/associações – APED, CIP e CAP – a arranjarem uma solução? Ou essa solução será imposta por via legislativa?
J.H.: Uma coisa não prescinde da outra. Um Código de Boas Práticas tem de assentar em dois aspectos: por um lado, a representatividade e, por outro, a eficiência e efectividade do código. Tem de funcionar.
Mas o relatório da AdC é extraordinário porque é a primeira vez que é produzido um relatório deste tipo, com aquela qualidade e aquela abrangência, dizendo que o que não se consegue fazer de uma maneira, terá de ser complementada com a outra. Não diz que se pode prescindir de uma ou outra.
H: Mas a FIPA tem apontado caminhos? Esses caminhos significam cedências demasiadamente grandes de partes envolvidas?
J.H.: Em tudo o que é um acordo tem de haver cedências. A indústria é que tem cedido mais ao longo dos anos e isto acaba por ser a melhor prova da nossa boa vontade.
H: Não podem ceder mais?
J.H.: Não, não há mais nada a ceder. O que há a ceder é uma questão de partilha e reconhecimento de que há problemas que terão de ser resolvidos.
A FIPA confia que as partes têm de encontrar uma solução, porque têm de fazer parte dessa mesma solução.
A velha frase de que estamos condenados a entender-nos, é um facto. Não pode haver indústria sem distribuição e não pode haver distribuição sem indústria, e não há indústria sem agricultura.
O carril em que nos movemos tem de ser o mesmo, cada um tem o seu papel e puxa mais no sentido de melhor a sua competitividade. Vão demorar algum tempo, mas todos os parceiros vão entender-se.
H: Quais são os principais desafios para a indústria transformadora nos próximos anos?
J.H.: O maior desafio que a indústria agro-alimentar vai ter é o da competitividade.
Num sector que pesa cerca de 14 mil milhões de euros, sendo o maior sector industrial transformador português, representando 5% do PIB nacional (construído como deve ser e segundo as regras), com um Valor Acrescentado de 18%, que contribui com mais de 16% para o emprego nacional, os desafios têm, por isso, de passar pela competitividade e assentar no abastecimento de proximidade.
Não vou aqui enumerar um chorrilho de pontos que têm vindo a ser apontados, pelo menos, há uma década e que continuam na mesma, como a justiça. Lembro-me de apontar ao anterior Governo no código das insolvências e que era um dos problemas. Recordo-me que me olharam e perguntaram se tinha a certeza. Ora, veja-se a actualidade.
Recordo que o importante é recuperar as empresas, não é acelerar um código para destrui-las ou fechá-las, isso é fácil.
Como disse, é preciso melhorar a competitividade e essa melhora-se através de um conjunto de políticas fiscais e de sinalização que este governo tem de ter relativamente à indústria.
H: Esse melhoramento da competitividade já não está tanto do lado das empresas?
J.H.: Não, de forma nenhuma. A partir de agora, só se cortássemos no pessoal todo e deixássemos as máquinas a trabalhar sozinhas.
Nós já fizemos todo o percurso que tinha de ser feito nesse domínio que foi melhorar a performance industrial, os parques industriais, as unidades industriais, dar-lhes um modelo de sustentabilidade, adoptar as melhores práticas de gestão, ter os melhores recursos humanos, tecnológicos, sermos inovadores.
Em todos estes aspectos, mais os pontos ligados à qualidade, ao marketing, packaging, de imagem, qualquer produto português é capaz de concorrer com qualquer produto internacional. Não falo em escala, mas do produto.
Por isso, o que a indústria pretende também dizer com este congresso é, estamos aqui, estamos vivos, estamos a trabalhar, a fazer o melhor que podemos e sabemos pelo País.
É preciso que não nos criem dificuldades que, de alguma forma, possam tirar as energias que precisamos de concentrar para ultrapassar este difícil contexto em que nos encontramos.